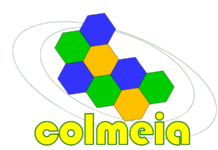Quando Katryna MalBem, 19 anos, se afirmou como mulher transexual, há cinco, anos foi um choque geral na Reserva Indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul – que tem as aldeias Bororó e Jaguapirú. “Eu fui a primeira transexual da aldeia. As pessoas não sabiam o que era e não entendiam”, conta ao Delas.

Katryna, que é da etnia Guarani, fala que até existiam homossexuais na aldeia, mas eram reservados e como a transexualidade era algo desconhecido, os olhares se voltaram para ela.
Ela conta que tinha apenas 14 anos quando começou a fazer a transição de fato. “Eu já não me sentia bem vestido de homem e comecei a usar hormônios. Cheguei em casa montada da noite pro dia”, relata. Apesar do baque para os outros moradores, em casa a situação foi mais tranquila.
A mãe já desconfiava, mas nunca tinha tocado no assunto. “Minha mãe não falou nada. Só conversou com meus irmãos para me respeitarem e pronto. Eles conversaram muito comigo e foram me aceitando”, conta.
Katryna passou por esse momento de transição sem saber que existiam outras transexuais e indígenas. “Eu achava que era a única”, lembra. Só aos 17 anos que ela começou a ter contato com outras mulheres como ela de diferentes aldeias pelo Brasil. “Fui me sentindo mais acolhida com elas e hoje já não me sinto sozinha”.
Com o apoio da família e o conhecimento de outras transexuais, Katryna foi ganhando força e abriu espaço para mais LGBTQ+ na Reserva de Dourados.
“Fui uma porta voz das trans indígenas”
“Eu fui uma porta voz das trans indígenas. Depois que eu me transformei em mulher, tirei outras armário”, fala. Katryna conta que o seu processo de transição foi um exemplo para que outras transexuais, gays e lésbicas da aldeia se sentissem mais seguros para se expor.
Ela explica que mora na aldeia Bororó, mas os LGBTQ+ também estão na Jaguapirú e a tiveram como referência. “Eles me perguntavam como era e tiveram o meu apoio”, fala. Porém, Katryna diz que, apesar dessa troca, não há muita união entre eles na aldeia.
A jovem acredita que isso pode ser um reflexo do fato da comunidade LGBTQ+ indígena ainda ser muito nova, além do preconceito que existe na aldeia. Ela explica que, no geral, tudo é liberado pelos caciques e lideranças, porém, ainda há olhares tortos e comentários.
“Eu tento conversar com as lideranças e buscar ajuda, porque eu tenho a minha certeza de sair de casa, mas eu não sei se eu volto”, fala. Katryna diz isso porque o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo, segundo a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais).
Por isso, para ela é fundamental manter uma boa relação com caciques e capitães. “Eu não me sinto acolhida, mas me sinto segura”, pontua. Apesar da falta de acolhimento na aldeia, Katryna tenta se concentrar no apoio da família.
E além de romper barreiras onde mora, ela fala que precisa romper as barreiras do movimento LGBTQ+. “Por enquanto, a gente [indígenas] ainda está se encaixando nas pautas do movimento. Ser LGBT indígena é uma coisa nova, mas eles precisam lembrar de que não existe trans só na cidade”, fala.
Entre uma luta e outra, Katryna conta que está tirando um ano de descanso após terminar o Ensino Médio. Ela pretende se dedicar ao Enem em 2021 e usar a nota do exame para cursar enfermagem em alguma universidade federal. “Hoje em dia, conseguir trabalho como trans é complicado. Mas eu busco o meu direito e o meu respeito, como qualquer ser humano”.